Tradição e aprendizado
Relação histórica entre índios e natureza modificou a biodiversidade de nossas florestas.
Embora não se possa dizer que os índios brasileiros sejam ‘naturalmente ecologistas’, podemos reconhecer que, em sua história, manejaram os recursos naturais de forma branda, provocando poucas perturbações ambientais até a chegada dos europeus. Até hoje, é nas terras ainda ocupadas pelos índios que o meio ambiente está mais protegido, principalmente na Amazônia, como demonstrou um estudo recente, baseado em imagens de satélite, do Instituto Woods Hole (Massachusetts, EUA), com a colaboração do Instituto Socioambiental (ISA) e do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM).
Segundo a pesquisa, publicada em fevereiro, as terras indígenas são tão boas quanto os parques para conter a destruição da mata, ou melhores, em uma realidade onde grande parte das unidades de conservação não está implantada ou não possui equipes suficientes nem para vigiar seu território. Isso acontece porque, para os cerca de 220 povos indígenas que vivem no Brasil, existe uma dependência em relação ao meio ambiente. Não apenas física, sobretudo cosmológica.
Ao selecionarem ou trocarem espécies com outros povos, ao abrirem clareiras para fazer roças, os índios ajudaram a moldar a paisagem altamente diversificada. Locais com grande presença de determinadas espécies, como os castanhais, as matas de cipó ou as florestas de bambu, são indícios de ocupação dessas regiões por populações indígenas. E o que se acreditava, até pouco tempo, serem apenas formas de manejo passadas de geração em geração, está se provando um conhecimento altamente sofisticado do ambiente e das espécies vegetais e animais.
Desde 1994, o antropólogo Geraldo Andrello trabalha com os índios Baniwa, do Rio Negro, no Amazonas. Ele é coordenador adjunto do Programa Rio Negro do ISA, fez um mapeamento geral das comunidades, cruzando com dados de solo e vegetação. Descobriu que a diversidade do ambiente implica especialização de usos e sistemas de trocas entre os grupos indígenas através de ritos e parentesco.
“O trabalho levava em consideração apenas as três macro-paisagens da região: floresta de terra firme, campinarana e igapós, que são as áreas inundáveis. Quando fomos mostrar o resultado aos índios, em três horas de conversa, eles subdividiram as três macropaisagens em 53 outras!”, conta. “Hoje detalhamos o estudo, em parceria com eles, e já estamos em mais de 300 classificações”. Através dos inventários botânicos, os pesquisadores perceberam que a biodiversidade é maior nas capoeiras (florestas secundárias em áreas já utilizadas para agricultura) do que em florestas virgens.
Um levantamento ictiológico realizado igualmente pelo ISA — dessa vez com os índios pescadores tukano e tuyuka no Alto Rio Tiquié, próximo à fronteira com a Colômbia — conseguiu coletar 140 espécies de peixes na região.
Para os pesquisadores do ISA, a troca intercultural é tão importante na Amazônia, que os órgãos financiadores de pesquisa precisariam adaptar seus sistemas para valorizar esse tipo de conhecimento. “Às vezes, o mateiro indígena sabe muito mais do que o pesquisador e não leva a autoria do trabalho”, diz Andrello.
Esses guardiões de conhecimento tradicional eram cerca de mil povos em 1500, quando chegaram os europeus, somando algo entre 2 a 4 milhões de pessoas. Hoje correspondem a 0,2% da população brasileira, ou cerca de 450 mil indivíduos, vivendo em 583 terras indígenas ou em núcleos urbanos próximos. A porção demarcada para esses habitantes originais corresponde a 12,5% do território brasileiro. No seu conjunto, tais áreas compõem um verdadeiro mosaico de micro-sociedades com diferentes culturas e situações de contato, espalhadas por todo o território nacional. Cerca de 40 desses povos vivem em regiões de fronteira nacional e estão também em países vizinhos. Há ainda dezenas de povos isolados, não-contatados ou sem contato regular com a sociedade brasileira.
Apesar das diferentes concepções de natureza, o fato de considerar o meio ambiente sempre em interação com a ação humana — e jamais intocado — parece ser um ponto em comum entre todos esses povos nativos. Para os yanomami, a ‘terra-floresta’ — chamada por eles de Urihi — é uma entidade viva, habitada e animada por espíritos diversos. A sobrevivência dos homens, no que diz respeito à obtenção de alimentos e à proteção contra doenças, por exemplo, depende das relações travadas com esses espíritos da floresta. Já para os tukano, o meio ambiente é formado por seres vivos, todos eles gentes que se relacionam. Eles se denominam Gente da Transformação, ou seja, parte da Gente Peixe que se transformou e deixou de viver nas águas, daí sua forte identificação com os peixes, considerados parentes próximos.
Outra característica comum a muitas etnias é o modo de manejar plantas, que promove a diversidade genética das espécies cultivadas, através da seleção de sementes ou da troca com povos vizinhos. Um exemplo é a mandioca (Manihot esculenta), espécie originária do sudeste da Amazônia e um dos principais itens do cardápio de praticamente todos os povos indígenas. A mandioca pode ser dividida em dois grupos, as mansas e as bravas, dependendo do teor de ácido cianídrico liberado. Os indígenas que cultivam as variedades de mandioca brava desenvolveram conhecimentos, tecnologias e instrumentos elaborados para eliminar sua toxicidade.
Povos do Alto Rio Negro, como os baniwa, tukano, desana, baré e outros, cultivam mais de cem variedades de mandioca brava, cada uma com sua característica — cor, gosto, facilidade de descascar, teor em fécula — e um nome diferente. Em apenas uma roça desses índios pode haver até 40 variedades de mandioca, usadas no preparo de farinhas, beijus, mingaus, entre outros pratos.
A presença de algumas espécies de plantas, em matas consideradas naturais, na região amazônica, indica habitação humana anterior. É o caso da pupunheira (Bactris gasipaes) ou do cacau (Theobroma cacao). Outros sinais de perturbação em matas amazônicas são as florestas dominadas por babaçu (Orbignya phalerata); a alta freqüência de palmeiras; a ocorrência de algumas campinas abertas de areia branca, matas de bambu (Guadua spp.), e ilhas de mata no cerrado central, bem como castanhais e matas de cipó.
Um dos maiores desafios em relação aos povos indígenas é garantir a proteção de seu conhecimento tradicional, principalmente no que se refere à repartição dos benefícios do uso desse saber na descoberta e industrialização de novos produtos. Um compromisso legalmente assumido pelo Brasil, ao assinar e ratificar a Convenção de Diversidade Biológica (CDB), em vigor desde 1993.
Hoje o assunto é regulamentado por Medida Provisória (MP), enquanto o projeto de lei de Acesso aos Recursos Genéticos e Conhecimentos Tradicionais ainda tramita no Congresso Nacional. Entre os aspectos positivos da legislação estão: o princípio da precaução; a definição de patrimônio genético como um bem de uso comum; e o respeito à vulnerabilidade das comunidades locais, por mecanismos que facilitam a defesa de seus direitos, como a necessidade do consentimento prévio e informado.
Ao contrário, o que impera são ameaças e casos exemplares de apropriação e uso comercial dos recursos naturais, pela manipulação de informações genéticas de seres vivos, microorganismos e até seres humanos, que se tornam matéria-prima para novos produtos da indústria farmacêutica, química ou alimentícia. Calcula-se que 75% dos princípios ativos isolados utilizados pela indústria farmacêutica derivaram do conhecimento tradicional.
É o caso da secreção cutânea do sapo verde (Phyllomedusa bicolor), utilizada por populações indígenas do Brasil e do Peru para afastar má sorte na caça e com as mulheres. Objeto de pesquisa desde os anos 80 por laboratórios internacionais, a secreção contém diversas substâncias com propriedades analgésicas e antibióticas e de fortalecimento imunológico, já desdobradas em dez patentes internacionais, quatro delas norteamericanas.
Enquanto, na Amazônia, a presença dos povos indígenas é quase sinônimo de conservação, na Mata Atlântica a história é outra. A destruição acelerada da floresta e a corrida para garantir a conservação do pouco que restou do bioma (menos de 8%) transformaram populações indígenas em ameaça. Muitas terras de ocupação tradicional estão sobrepostas a unidades de conservação, em áreas às vezes tão pequenas, que mesmo as atividades de subsistência de poucas pessoas (abrir clareiras, caçar e fazer roças) representam grandes estragos. Os casos de sobreposição geram conflitos de toda a natureza, começando pelos legais, já que a Constituição garante tanto o direito à preservação ambiental como aos territórios tradicionais, colocando em lados opostos órgãos de governo, organizações não-governamentais ambientais, sociais e socioambientais. E muitos impasses se traduzem em perdas tanto para o meio ambiente quanto para os indígenas.
A escassez de áreas disponíveis para a instalação dessas populações deixa altamente vulneráveis a invasões as poucas áreas ainda preservadas de Mata Atlântica. Os casos mais conhecidos são os dos pataxó, no Monte Pascoal (Bahia); os guarani, nas regiões Sul e Sudeste, e os xokleng, no Alto Vale do Itajaí (Santa Catarina).
Para Antonia Pereira de Ávila Vio, diretora executiva da Fundação Florestal do Estado de São Paulo, em regiões tão urbanizadas e com tão poucos remanescentes florestais, o comportamento dos próprios índios se transformou e hoje eles aspiram aos produtos e à tecnologia como qualquer cidadão. Assim, sua relação com a natureza mudou. “Hoje, eles olham para a floresta também como um local com recursos para serem vendidos aos brancos, aumentando a pressão dentro dessas áreas”, diz. “E não podemos dizer a eles que não podem ter acesso aos bens de consumo”.
“Além de ser um parque, categoria de unidade de conservação que não admite moradores, o Intervales fica em uma área que não é própria para acolher população, por ser muito úmida e estar no pé da Serra do Mar”, explica a diretora. Até o momento, porém, todas as tentativas de negociar com o Ministério Público Federal foram infrutíferas. Além disso, a Fundação Florestal encontra a resistência de entidades que acreditam que os índios devem escolher onde querem viver.
“Não dá para dizer que a presença indígena não causa impacto e não há perda de biodiversidade. Tentamos impedir a saída de produtos no Parque, mas é comum encontrar índios em Cananéia vendendo palmito ou aves e a polícia não pode interferir”, lamenta. “É preciso entender que uma unidade de conservação não é patrimônio de uma etnia, mas de toda a população.”
Terra da Gente - Maura Campanili

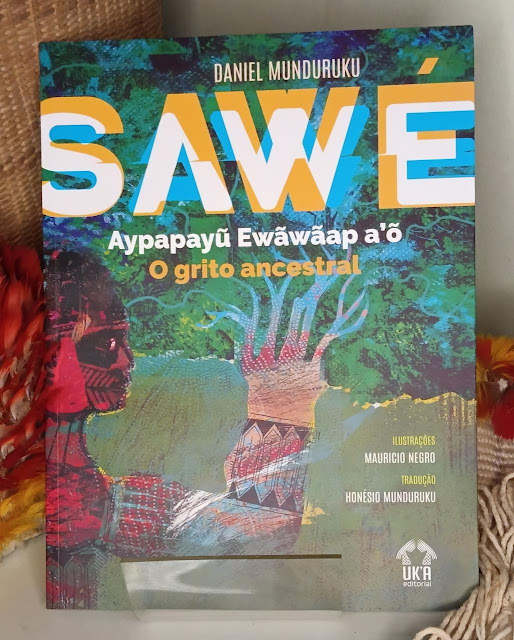
Comentários
Postar um comentário